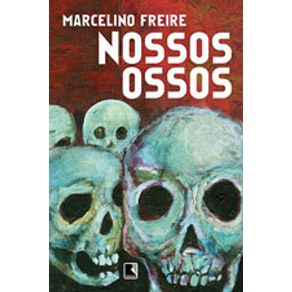Meu nome é Heleno. Sou dramaturgo, protagonista deste prosa longa, primeiro romance de Marcelino Freire, e tenho um corpo morto de um michê para entregar ao seu pai e à sua mãe, mas não sei quem são e nem onde estão. Tudo porque nada escapa ao teatro. As coisas todas vêm ao palco e ficam aqui para sempre. Cheguei em São Paulo por causa de Carlos, meu primeiro amor, e para escrever peças, encantar plateias, “revelar esse mundo e inventar outros”. Para curar doenças, sofrer, amar, ser feliz, ser normal, ser outro, sempre outro narrando também a melancolia da infância, os restos mortais de tudo o que foi falado em minha casa e os fósseis que eu achava em meu quintal. Ah, se não fossem o público, os diretores, os jornalistas, os atores, os preparadores de elenco, os produtores, os outros nordestinos da técnica, eu não poderia fazer cara de necrotério, essa cara de forte, cara de rico, cara de vingança e cara de nada quando fico representando só para mim. E aí vêm meu amor pelo boy, Lourenço me levando para ser “enterrado no coração de meu pai”, o carinho por Picasso, a sinceridade arisca do michê, os seios de Estrela, o porteiro, o assassinato, o bancário, os outros michês, a fábrica de dominó, meus nove irmãos, o delegado, o IML, o cara do táxi no ir-e-vir dessa narrativa que Freire inventou. A malandragem paulistana. As pessoas da noite. As padarias... O teatro para mim era besteira d’alma, eram as brincadeiras vespertinas de criança, a cruz da interpretação, era a lembrança de minha mãe (todas as personagens que eu inventei são ela). Nesta vida, amei os aplausos, as viagens, as críticas de elogio, o sexo de curiosidade com os artistas bem-sucedidos, as metidas de rua, adorei foder gostoso atrás dos fliperamas. Eu amei de tudo e vou continuar amando. Heleno de Gusmão, em depoimento ditado para Paulo Lins